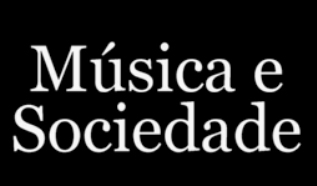
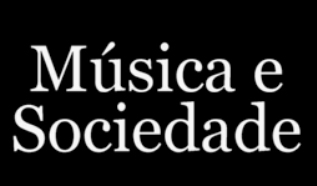
Tendo estabelecido que a música exerce uma clara influência sobre o homem como indivíduo, a questão de saber se ela afeta a sociedade em geral é uma simples questão de extrapolação.
O indivíduo é o componente básico da sociedade. Todas as civilizações são casas construídas com homens em lugar de tijolos. Se os caracteres de uma grande proporção dos indivíduos que compõem a sociedade se modificam, essa sociedade sofrerá, sem dúvida, certo grau de modificações similares.
As evidências sugerem vigorosamente que o efeito da música sobre o indivíduo é similar das outras experiências de percepção e aprendizado, como a aquisição da linguagem. Como já verificamos, existem similaridades definidas entre as influências da linguagem e da música sobre a sociedade.
Ambas, por exemplo, atuam como codificadoras de conceitos intelectuais ou sentimentos emocionais e, sem a palavra chave ou a peça de música, é possível que conceitos e sentimentos permaneçam desconhecidos e alheios a sociedades inteiras.
Uma faculdade humana que parece afetada assim pela língua como pela música é a do conhecimento e percepção do tempo. No tocante à linguagem, psicólogos sociais e antropólogos anotaram certo número de casos de povos primitivos, em várias partes do mundo, que têm poucos ou nenhuns termos com que possam referir-se à passagem do tempo — carecem de palavras como “horas”, “meses”, “ontem” ou “cedo”. Em consequência disso, são incapazes de manejar conceitos de passado e futuro. Incapazes de conceituar ou discutir claramente o passar do tempo, vivem numa vaga espécie de agora-eterno, e a estrutura da sua sociedade e das atividades dela reflete pouco ou nenhum sentido de progresso, ou mesmo de eventos cíclicos.
Essa estreita relação entre a linguagem e a conceituação do tempo paraleliza intimamente a relação entre a música do povo e sua conceituação do tempo.
No mundo ocidental moderno, o movimento e o ritmo da maior parte das músicas são muito claramente planejados, escritos e sustentados. As obras musicais podem ser conscientemente divididas em movimentos e seções definidos. Há um sentido de progresso do começo ao fim. Da mesma maneira, lidamos com o tempo em termos intelectuais muito precisos. Dividem-se os dias em horas e minutos. A hora do dia, a data, o mês e o ano de muitos acontecimentos históricos registram-se com exatidão. Os dias e semanas futuras de nossa vida são amiúde bem planejadas antecipadamente. Temos uma robusta consciência do progresso de cada dia da manhã à noite. Além disso, tendemos a viver com o sentimento de que a nossa vida nos está levando para algum lugar; com o sentido do progresso sobre o tempo rumo à nossa meta.
Nem tudo isso ocorre necessariamente na música e na estrutura intelectual de outras culturas. Os músicos de Bali não escrevem a sua música e, por conseguinte, não aderem rigidamente a um repertório de clássicos invioláveis. Em lugar disso, preferem improvisar (dentro, porém, de certas regras definidas).
Partindo desse ponto, Christopher Small (Christopher Neville Charles Small (17 de março de 1927 – 7 de setembro de 2011) nascido na Nova Zelândia foi um músico, educador, conferencista e autor de muitos livros e artigos influentes nas áreas de musicologia , sociomusicologia e etnomusicologia . Ele cunhou o termo musicking , para destacar a música como um processo (verbo) e não um objeto (substantivo).) fez, interessantíssima observação sobre a música e o povo de Bali: os músicos balineses não estão preocupados, como acontece conosco no Ocidente, com o ideal de progresso, visto que o seu próprio conceito de tempo não é linear, mas circular. Além disso, o mais importante é que:
A circularidade do tempo se revela não só na música mas também em muitos rituais e costumes sociais de Bali.
O calendário reflete, de idêntica maneira, a circularidade do sentido do tempo dos balineses. Mede, não a passagem do tempo, mas as características das várias partes dos ciclos temporais.
Não é provável que se devam totalmente tais similaridades entre os padrões da música e os padrões da vida à natureza da cultura em geral, que ditaria os seus padrões musicais. Cada qual influi no outro até certo ponto. De um lado, não seria realístico supor que a civilização, como fator ambiental (e incluindo a música já existente nessa civilização), não exerce influência alguma sobre o curso da música do presente, à proporção que essa música se manifesta. Entretanto, ao influenciar a música, a própria civilização é também afetada por ela. O que temos aqui é uma clássica situação de galinha-ou-ovo (quem,apareceu primeiro?). Ao codificar esta ou aquela visão do mundo, a música, até certo ponto, deve estar meramente reagindo à cultura dentro da qual já se encontra. Tendo, contudo, admitido esse ponto, cumpre afirmar também que, como o indicou Cyril Scott (Cyril Meir Scott (27 de setembro de 1879 – 31 de dezembro de 1970) foi um compositor, escritor, poeta e ocultista inglês. Ele criou cerca de quatrocentas composições musicais, incluindo piano, violino, concertos para violoncelo, sinfonias e óperas. Ele também escreveu cerca de 20 panfletos e livros sobre temas ocultos e saúde natural.), um estudo da história revela com absoluta clareza que as alterações na música tenderam a preceder os eventos exteriores, “históricos”. Em outras palavras, a música também codifica simbolicamente estilos de vida e ideologias ainda não existentes na vida exterior, mas que passam a existir, precisamente, graças a essa qualidade criativa da arte.
Um dos poucos escritores modernos que não negam seja a música tão importante para a modelagem da sociedade quanto o é a sociedade para a modelagem da música, John Shepherd ( É um gênio autodidata da eletrônica. Quando criança, um dos seus passatempos preferidos era recolher aparelhos de rádio e TV jogados fora e transformar em dispositivos novos. E não demorou muito a usar suas habilidades para um objetivo incomum: fazer contato com extraterrestres. Mas como você inicia uma conversa com alienígenas? John acreditava ter a resposta:
“A música é uma linguagem universal…”, diz ele.
A história dele é retratada no documentário da Netflix “John à Procura de Aliens”, dirigido por Matthew Killip), um dos quatro autores de um livro intitulado Whose Music? A Sociology of Musical Languages. escreve:
A música é … um modo aberto que, através da sua natureza essencialmente – estrutural, se ajeita singularmente para revelar a estruturação dinâmica da vida social, uma estruturação da qual o “material” forma apenas um aspecto. A música é conclusiva … porque o significado social só pode surgir e continuar a existir através da comunicação simbólica que se origina na consciência — comunicação de que a música faz parte.
Da mesma maneira com que o sentido do tempo dos balineses parece haver sido modelado segundo a estrutura do tempo da sua música, John Shepherd aponta para as similitudes espaciais, temporais e estruturais entre a música ocidental de diferentes períodos históricos e as sociedades desses mesmos períodos. É verdade, sem dúvida, que no cantochão medieval o indivíduo se via submerso na estrutura global da música, exatamente como o homem medieval tendia a carecer de individualidade dentro da estrutura da sociedade. Hoje, a expressão individual na música é parelelizada pela expressão individual na vida.
Os sistemas de notação e de tons associam-se também à estrutura da sociedade? Shepherd dá a entender que sim, e que a tonalidade codifica a visão industrial do mundo. Escreve ele:
O arquitetonicismo da estrutura tonal articula o sentido do mundo do homem industrial, pois é uma estrutura que tem um ponto de vista central (o ponto de vista da tônica), foco de um sentido singular e unificado do som, que envolve alto grau de distanciamento. Em outras palavras, uma estrutura orientada para o centro, com margens …
Além disso, é um equivalente dialético do tempo espacializado, articulado pela tonalidade; e o homem industrial, ao tornar-se cada vez mais objetivo e consciente de si próprio, é capaz de recuar e objetivar a passagem do tempo … Trazendo a pulsação corpórea da música a um alto-relevo continuo dessa natureza — e por esse modo alterando e negando suas características originais, “intérminas” e hipnóticas – a estrutura rítmica da tonalidade ajuda a manter a intensa e constante percepção do homem industrial não só do passar do tempo mas também da sua própria consciência.
Shepherd, portanto, emerge como um dos poucos pensadores modernos que atribuem à música, em letra de forma, um papel pelo menos parcialmente criativo. Em outro lugar do mesmo livro, entretanto, essa possibilidade, com suas vastas implicações, é evitada. Virden e Wishart, por exemplo, interpretam a linha de raciocínio de Shepherd como se uisesse apenas dizer que (e coloquei-lhes as palavras-chave em itálico), “a música medieval articulou uma idealização da sua sociedade“; que “a tonalidade expressou musicalmente a hierarquia nacionalizada e centralizada que realmente emergia da vida econômica, política e cultural“; o que “as regras geradoras de transformação da tonalidade foram assim estabelecidas como um acompanhamento musical para a emergência de um novo sentido geral e de organização do mundo humano”. O que se pode discernir é a oposição, no próprio espírito das pessoas, à compreensão do quanto a música é poderosa e importante. A associação entre estruturas musicais e estruturas sociais pareceria inegável mas, quando se chega à interpretação pessoal do fato, nota-se uma tendência para tornar-se pelo menos vaga, se não completamente reducionista.
Entretanto, embora não seja difícil, para o filósofo de gabinete, minimizar o papel independente, criativo, da música no influenciar a sociedade, pode revelar-se impossível para o filósofo prático “no campo” fazer o mesmo. E, o que é ainda mais divertido, quando um filósofo de gabinete defronta, de repente, com o mundo real, vê-se amiúde compelido a alterar seu ponto de vista. Um bom exemplo do que acontece quando a filosofia materialista da música defronta-se com a realidade nos fornece a história da música sob o regime da ditadura soviética. De acordo com o materialismo dialético rigoroso, o homem não modela a civilização, mas a civilização modela o homem. Citemos as palavras de Marx: “não é a consciência dos homens que lhes determina a existência mas, ao contrário, é a existência social que lhes determina a consciência“. Palavras de que B. F. Skinner se envaideceria. Conforme esse ponto de vista materialista, portanto, os homens são meras máquinas biológicas programadas pelo meio ambiente. A música, como criação da consciência dos indivíduos, deveria, portanto, refletir com exatidão a estrutura da sociedade, exceto na forma simbolizada. Esta noção era importante para os ditadores comunistas que emergiram, vitoriosos, da Revolução de Outubro. A sua preocupação cifrava-se em manter as massas em ordem, e obstar a qualquer forma de contra revolução. Assim, como um aspecto dessa preocupação, era-lhes forçoso formular um modo de agir definido em relação às artes, a fim de impedir que estas viessem a tomar-se uma ameaça ao seu domínio. Segundo o materialismo dialético, no entanto, a arte deve acompanhar os sucessos político econômicos e, por conseguinte, pode ser deixada livre da interferência política. Não se concebia sequer a possibilidade de alguma influência na direção oposta, uma vez que a arte (da consciência) não afeta eventos político-econômicos (sociedade). A fim de dirigir a natureza da música e das outras artes, os ditadores soviéticos acreditavam não ser necessária nenhuma intervenção direta, pois bastariam os seus movimentos políticos e econômicos. Inicialmente, portanto, adotou-se um ponto de vista liberal em relação às artes.
Como parece ocorrer em tantas atividades da sociedade soviética, todavia, esse ponto de vista “liberal” foi reconhecidamente sujeito, desde o princípio, a certo grau de pronunciamentos ambíguos. Lenine, por exemplo, reconheceu que “todo artista julga ser um direito seu criar livremente, de acordo com o seu ideal, seja ele bom ou não”; e continuou:
Mas, naturalmente, somos comunistas. Não devemos deixar que nos caiam as mãos no colo e permitir que o caos fermente a seu talante. Precisamos tentar conscientemente guiar esse desenvolvimento, modelando e determinando os resultados.
Trotsky também sentia a necessidade “de destruir toda tendência da arte … que ameace a revolução”.
Para as autoridades soviéticas, a música clássica era perfeitamente aceitável visto que, como assinalou John Shepherd:
a música clássica, tradicionalmente tonal, codifica e articula, a um tempo, a estrutura de um sistema político-econômico centralizado, sendo assim inteiramente adequada à “nova” ordem de coisas na Rússia. Dada essa afinidade, seria muito pouco provável que se tolerasse a música articuladora de outras estruturas concorrentes. Isso explica, em grande parte, a razão por que se suportavam a mórbida frustração de Tchaikovsky e o erotismo neurótico de Scriabin, ao passo que a linguagem mais clara e mais vigorosa de Prokofiev foi freqüentemente castigada.
O problema que se apresentava à ditadura soviética era que, embora a música clássica não lhes ameaçasse a retenção do poder no centro da hierarquia comunista, o século em que os ditadores realmente viviam assistiu ao nascimento de todos os tipos de música que representavam, de fato, uma ameaça. Não somente a “nova música” propriamente dita, mas também a música sacra e algumas formas de música popular eram totalmente incompatíveis com a estrutura da sociedade soviética e a ideologia comunista. A música moderna dava destaque a uma forma diferente de hierarquia. Dava destaque também à expressão individual, que chegava, às vezes, à própria anarquia. Ascendendo ao poder, Stalin viu de pronto que a música representava uma ameaça real à estabilidade do regime. Independentemente dos ditames do materialismo dialético e de suas teorizações, as necessidades práticas do mundo real forçaram-se a imprimir uma meia-volta completa à atitude da liderança soviética para com as artes tonais. Em 1927, a Associação Russa de Músicos Proletários, conservadora e ideológica, absorveu a Associação de Músicos Contemporâneos, mais vanguardista. Nos anos seguintes, os compositores soviéticos foram mantidos em seus devidos lugares pela crítica devastadora a qualquer coisa remotamente progressiva. Já em 1936, a Associação Russa de Músicos Proletários, por seu turno, foi substituída pela União dos Compositores Soviéticos, órgão oficial do governo.
Em seus elementos básicos essenciais, a história do encontro soviético com o poder da música é simplesmente a do descobrimento, pelos comunistas, de que, a despeito de toda a sua teorização reducionista, a música possui o poder de introduzir novos modos de consciência na sociedade, modificando-a, portanto. A única maneira de impedi-lo consistia em suprimir a própria música nova.
É também importante notar que algumas formas de música, como a clássica, são eficientes na preservação de todas as formas da sociedade moderna, seja ela capitalista ou comunista, e provavelmente até boa ou má. Inversamente, as formas musicais anárquicas demolidoras, comparáveis a pestes ou escassez de alimentos, são capazes de destruir todas as espécies de sociedade moderna. Isso significa que certos tipos de música, embora sejam a última coisa que um político desejaria deixar à solta dentro de sua própria nação, são exatamente o que ele desejaria soltar no campo do “inimigo”. Mas, a fim de usar a música como arma dessa maneira, é obviamente essencial que o político, em primeiro lugar, lhe compreenda o poder e acredite nele, o que raramente foi feito pelos chefes ocidentais. Os comunistas soviéticos, todavia, nunca se esqueceram da sua dura lição relativa ao poder político e social da arte. Em épocas mais recentes, o regime soviético e outros regimes comunistas do mundo manti¬veram, ou tentaram manter, um rígido controle da importação da música de rock para os seus países. Existem, porém, provas de que a natureza política (de esquerda) da indústria do rock ocidental sofreu significativa influência dos subversivos radicais a partir dos anos 50.65 Ainda mais impressionante é a evidência de que, desde os anos 40, os soviéticos se voltaram realmente para a música como meio de perturbar a estabilidade mental de crianças ocidentais. David A. Noebel documentou, com minúcias, as tentativas de radicais ligados aos soviéticos de fundar gravadoras no Ocidente para divulgar gravações hipnóticas e nocivas a crianças, assim como para liberar discos anárquicos de rock e folk-rock de esquerda.
Além dos seus tipos de feito destrutivo sobre a sociedade, a música também pode ser uma robusta força aglutinante e unificadora, como já se verificou muitas vezes, atuando qual foco central para a unificação de indivíduos, movimentos, classes e facções. Na unidade de propósito
Reside uma força imensa, de modo que, como agente produtor dessa unidade, a música alterou, muitas vezes, o curso da história. Canções ou movimentos musicais uniram, em determinadas ocasiões, nações inteiras. Chegaram a criar nações: é raro compreender-se hoje em dia o quanto a Revolução Americana foi uma revolução musical, mas o fato é que canções eloquentes e inspiradoras de protesto, liberdade e fraternidade foram o que primeiro uniu e despertou um povo para o seu destino, precipitando-se afinal a música revolucionária numa revolução física, da qual nasceram os Estados Unidos da América.
Vários anos antes da Guerra de Independência americana, canções de resistência principiaram a aparecer impressas, espalhando-se pelas colônias, popularizando-se ao extremo e sendo ativamente cantadas por muitos.
Conquanto o seu efeito fosse forjar rapidamente um amplo sentimento de unidade e propósito entre os colonos, as canções, na verdade, nasceram de pequenas minorias organizadas, que as usaram, de caso pensado, como meio de ajudá-las a antever o futuro de sua terra. Em sua maior parte, esses grupos eram formados de maçons e de Filhos da Liberdade.
O papel vital dos maçons em toda a história da Revolução nunca será superestimado. George Washington, os chefes do seu estado-maior, a grande maioria dos signatários da Declaração da Independência e quase todas as figuras de destaque das colônias eram maçons. Como também o eram, por mais cômico que isso possa parecer, os “índios” responsáveis pelo Chá de Boston. Os maçons, com efeito, se encontram na origem e no âmago da Revolução.
A publicação de canções patrióticas de liberdade foi um dos principais métodos pelos quais os maçons reuniram e despertaram um povo para o seu destino. Muitos chefes políticos da nação emergente, como Francis Hopkinson, Thomas Paine e Benjamin Franklin, figuravam também entre os mais populares autores de canções do Novo Mundo, além de pertencerem à Maçonaria. Sobre ser, reconhecidamente, o primeiro compositor nativo da América, e maçon, Francis Hopkinson foi um dos signatários da Declaração de Independência e é amplamente conhecido como a pessoa que desenhou a bandeira americana.
A primeira música patriótica a ser publicada no Novo Mundo surgiu em 1768. A Canção da Liberdade de John Dickinson estabeleceu o modelo para quantas se seguiram nos anos anteriores à manifestação da própria revolução física:
Vinde juntar-vos de mãos dadas todos os americanos,
E erguei vossos ousados corações ao chamado da formosa Liberdade
Nenhuma lei tirânica suprimirá vossa justa pretensão,
Nem manchará com a desonra o nome da América.
Na Liberdade nascemos e na Liberdade viveremos,
Nossos bolsos estão preparados,
Firmes, Amigos, firmes,
Não como escravos, mas como Homens livres nosso dinheiro entregaremos…
Os séculos falarão com assombro e aplausos,
Da coragem que mostrareis em apoio de nossas leis
Podemos suportar o morrer
mas o servir desdenhamos,
Pois a vergonha, para a Liberdade, é mais terrível que a dor.
Na Liberdade nascemos…
A história registra que a Canção da Liberdade “se tornou uma obsessão e era cantada em toda a parte: nas manifestações políticas, nos comícios de protesto, nas comemorações patrióticas, nas cerimônias de consagração das árvores da liberdade, por puro entretenimento e também a título de provocação, para enraivecer os britânicos…”
Essas canções desempenharam papel importante na primeira formação do sentido de nacionalidade dos americanos. Os adeptos do esoterismo talvez encontrem também significação no fato de serem as canções entoadas, regular e amplamente, por grandes aglomerações de pessoas, nessas condições, os sons da liberdade e resistência foram contínua e vigorosamente divulgados a partir de 1768. Ainda que se despreze o ângulo esotérico, a conexão dessa música com os acontecimentos que se seguiram é inequívoca.
Desde o início, a visão do futuro que as canções ensejavam era supremamente ambiciosa. Em face da importância relativamente pequena e do status inferior das colónias americanas na década de 1700, a visão revelava-se também estranhamente profética. As canções exortavam a humanidade a “despertar ao chamado da liberdade”, e prediziam que “a chama da liberdade” rugiria “com uma nota altissonante” até “em plagas distantes”. Já em 1774, o Newport Mercury publicou uma canção que incluía a seguinte quadra realmente surpreendente:
Um raio de fúlgida Glória brilha agora de longe,
Abençoada Aurora de um Império que se levanta;
Na Bandeira americana luz agora uma Estrela,
Que logo flamejará, enorme, pelos céus.
Alguns anos antes do começo da Guerra da Independência, os cantores patrióticos já haviam deixado bem claro que tinham plena consciência do poder marcial do som. Uma quadra, estampada no Boston Cronicle de 23-26 de outubro de 1769, advertia sombriamente:
Mas quando a causa do nosso país reclama a Espada,
E dispõe em ordem de batalha os bandos guerreiros
Uma pujante música marcial inspira uma cólera gloriosa,
Desperta o desejo ousado e insufla os fogos que se levantam.
No transcurso da própria guerra, não havia engano possível quanto à música de vitória preferida pelos americanos. Thomas Anburey, membro do exército britânico que se rendeu, escreveu do campo de internação no dia 27 de novembro de 1777:
Yankee Doodle é agora o seu hino de triunfo, um favorito dos favoritos, executado em seu exército, considerado tão marcial quanto a Marcha dos Granadeiros – é o fascínio do namorado, o acalanto da ama. Depois dos nossos rápidos sucessos, professávamos grande desdém pelos ianques, mas não foi pouco mortificante ouvi-los cantar essa canção, quando o seu exército marchava para a nossa rendição.
Deve-se mencionar que os patriotas americanos estavam convencidos de que a sua luta contava com o amparo divino. Nisso eles tinham por pontas-de-lança os maçons, cientes, o tempo todo, do destino para o qual se dirigia o Novo Mundo, e que sentiam os próprios anjos de Deus por detrás dos seus esforços, guiando e guardando os filhos da liberdade e ajudando a criar uma nação que, um dia, iluminaria o mundo. Às vezes, com efeito, se diria que os próprios arautos do céu sussurravam suas letras aos ouvidos receptivos dos músicos maçons. A Nova Canção da Liberdade de Massachusetts, do Dr. Joseph Warren, soa tanto como a afirmação de um Deus da Liberdade quanto a de um patriota de Boston:
Trouxemos para cá a formosa LIBERDADE quando, vede, o Ermo sorriu,
Paraíso de Prazer abriu-se no sertão;
A vossa Colheita, ousados AMERICANOS, Poder algum vô-la arrebatará.
Confia em ti, em ti, em ti, minha corajosa AMÉRICA.
Levantai a cabeça, meus Heróis! e jurai com altivo desdém,
O miserável que queria escravizar-vos em vão espalhará suas armadilhas;
Ainda que a EUROPA derrame toda a sua Força, vós a enfrentareis em ordem de batalha,
E aclamareis, aclamareis, aclamareis, aclamareis a corajosa AMÉRICA.
A Árvore da Liberdade de Thomas Paine teceu louvores à árvore da liberdade que criaria raízes, floresceria e levaria “as nações vizinhas a buscar- lhe a praia pacífica”.
A canção também reconhecia a existência de criaturas celestiais apoiadoras – reconhecimento que pretendia ser tomado não menos simbólica ou poeticamente do que ao pé da letra:
Num carro de luz das regiões do dia,
Veio a Deusa da Liberdade
Dez mil seres celestiais indicavam o caminho,
E para cá conduziram a Dama,
Este formoso ramo que principia a brotar, tirado do jardim lá em cima,
Onde milhões concordam com milhões,
Ela trouxe na mão, como penhor de afeto,
E à planta chamou Árvore da Liberdade.
A canção, publicada pela primeira vez em julho de 1775, trazia a assinatura de “Atlanticus”.
Finalmente, as canções foram interpretadas pelos primeiros patriotas no autêntico espírito de prece e invocação. Os chefes maçons acreditavam que o destino da nação fora traçado de antemão pelos agentes divinos, e só requeria coragem, fé, canção e aplicação para manifestar-se. Se considerarmos o milagroso nascimento subsequente, a vitória e o crescimento sem paralelo da nova nação, há aí matéria suficiente para obrigar-nos a fazer uma pausa antes de declarar que as crenças ardorosas dos americanos não tinham razão de ser.
La Marseillaise
Avante, filhos da Pátria,
O dia da Glória chegou!
Contra nós da tirania,
O estandarte ensanguentado se ergueu.
Ouvis nos campos
Rugir esses ferozes soldados?
Vêm eles até os vossos braços
Degolar vossos filhos, vossas mulheres!
Às armas, cidadãos,
Formai vossos batalhões,
Marchemos, marchemos!
Que um sangue impuro
Banhe o nosso solo!
O que quer essa horda de escravos,
De traidores, de reis conjurados?
Para quem (são) esses ignóbeis entraves,
Esses grilhões há muito tempo preparados?
Franceses, para nós, ah! que ultraje
Que comoção deve suscitar!
É a nós que ousam considerar
Fazer retornar à antiga escravidão!
O quê! Tais multidões estrangeiras
Fariam a lei em nossos lares!
O quê! Essas falanges mercenárias
Arrasariam os nossos nobres guerreiros!
Grande Deus! Por mãos acorrentadas
Nossas frontes sob o jugo se curvariam
E déspotas vis tornar-se-iam
Os mestres dos nossos destinos!
Tremei, tiranos! e vós pérfidos,
O opróbrio de todos os partidos,
Tremei! vossos projetos parricidas
Vão finalmente receber seu preço!
Somos todos soldados para vos combater,
Se tombarem os nossos jovens heróis,
A terra novos produzirá,
Contra vós, todos prestes a lutarem!
Franceses, guerreiros magnânicos,
Levai ou retende os vossos tiros!
Poupai essas tristes vítimas,
A contragosto armando-se contra nós.
Mas esses déspotas sanguinários,
Mas esses cúmplices de Bouillé,
Todos os tigres que, sem piedade,
Rasgam o seio de suas mães!
Amor Sagrado pela Pátria
Conduz, sustém nossos braços vingativos
Liberdade, liberdade querida,
Combate com os teus defensores!
Debaixo as nossas bandeiras, que a vitória
Chegue logo às tuas vozes viris!
Que teus inimigos agonizantes
Vejam teu triunfo e nossa glória.
Entraremos na carreira (militar),
Quando nossos anciãos não mais lá estiverem
Lá encontraremos suas cinzas
E o resquício das suas virtudes
Bem menos desejosos de lhes sobreviver
Que de partilhar seus caixões,
Teremos o sublime orgulho
De vingá-los ou de segui-los.
Nem sempre La Marseillaise foi o hino da França.
Em 1792, com o nome de “Chant de guerre pour l’armée du Rhin” (Canto de Guerra para o Exército do Reno), o oficial Claude Joseph Rouget de Lisle da divisão de Strasbourg criou como canção revolucionária o que hoje é o hino da França.
A canção adquiriu grande popularidade durante a Revolução Francesa, especialmente entre as unidades do exército de Marselha, ficando conhecida como “La Marseillaise”.
La Marseillaise foi adotada como hino da França entre 14 de julho de 1795 até 1804. Depois só voltou a ser considerada novamente como hino da França a partir de 1879 até os dias de hoje.
Por ser um canto revolucionário, La Marseillaise inspira diversos revolucionários em todo o mundo.
Uma adaptação russa (La Marseillaise des travailleurs) foi criada em 1875. Quem a cantava na Rússia era preso pela polícia. Em 1917, os bolcheviks a adotaram como hino. Quando Lenin retornou para Rússia, ele foi recebido ao som da Marseillaise.
Em 1935, Mao fez com que La Marseillaise fosse cantada durante a Grande Marcha (retirada das tropas do Partido Comunista Chinês, Exército de Libertação Popular, para fugir à perseguição do exército do Kuomintang). Além disso, ela era ensinada nas escolas na China até 1970.
Outra curiosidade, em 1967, os Beatles usaram o início da Marseillaise na introdução da canção “All You Need is Love”.