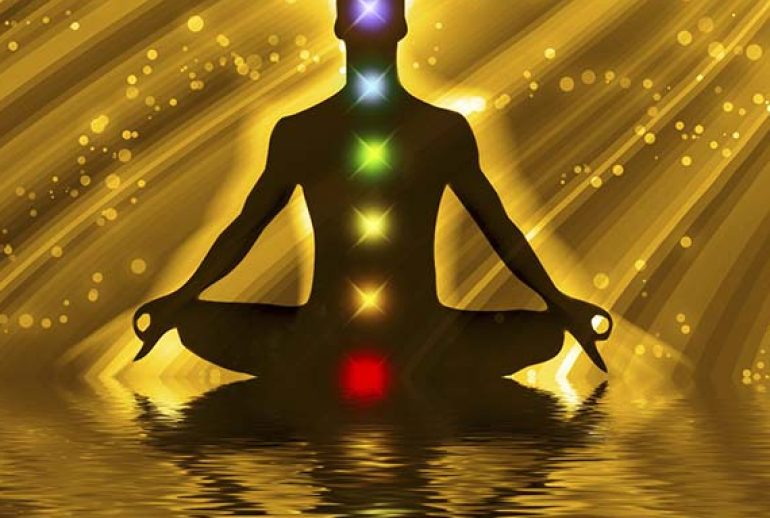– O bhakti hindu
Oferece uma abordagem inclusiva para a realização espiritual, independentemente do status social, casta, gênero ou religião. A palavra ‘bhakti’ significa devoção. O movimento acredita que Deus (com ou sem forma) habita dentro de todos e pode ser alcançado através de um relacionamento pessoal e amoroso com o Divino.
Bhakti Yoga, o sentimento vivo de unidade, também é conhecido como um caminho de devoção, levando à auto-realização enraizada no amor, e a um estado de completa entrega a Deus
A essência do bhakti é fazer do objeto de devoção o pensamento central da pessoa. O devoto pode escolher qualquer deidade ou ser divino como seu objeto devocional. O que impulsiona sua prática é tentar manter o pensamento do objeto devocional na dianteira de sua mente o tempo todo. Além de kirtan (recitar ou cantar), há três níveis de japa, repetição do nome: falado, verbalização calada e mental. Alguns consideram cada forma sucessiva de japa como “dez vezes” mais eficaz que a anterior, sugerindo-se, então, que o neófito pratique um mínimo de seis horas de japa por dia.
Desde o início, o devoto também se esforça por manter o japa no meio das atividades de sua vida. O mala, ou rosário, é um auxílio técnico comum para o japa; com o manuseio de cada conta, o devoto recita o nome uma vez. Outros auxílios incluem ajustar a recitação a cada respiração ou a cada batida do pulso. Qualquer que seja o recurso mnemônico, o principio e o mesmo: o devoto dirige sua atenção imediata ao objeto devocional sempre que sua mente cessar de se engajar em outra coisa. O objetivo dessa etapa da prática é tornar o hábito de repetição mais forte que todos os outros hábitos mentais do devoto. Gradualmente, sua mente será ocupada exclusivamente pelo pensamento da deidade ou se concentrará nela, enquanto outros pensamentos vêm e vão na periferia da consciência. Dessa maneira, o devoto fica unidirecionado para seu objeto devocional.
Como exemplo podemos citar Sri Ramakrishna, (18 02 1836, Kamarpukur, Índia 16 08 1886, Cossipore, Índia 50 Anos) um yogui bengali da virada do século 19. Ele foi uma vez a um espetáculo teatral sobre a vida de Sri Chaitanya, um bhakti do século XVII conhecido por seus cânticos e danças de amor pelo Senhor Krishna. Em diversos momentos durante o espetáculo, ao ver as representações da devoção de Chaitanya a Krishna, Ramakrishna entrou em samadhi, uma profunda absorção meditativa.
O samadhi de Ramakrishna marca‑o como um bhakta por excelência.

Bhakti, ou devoção a um ser divino, é a forma mais popular de adoração nas religiões do mundo contemporâneo. Um cristão orando o “Pai nosso”, um judeu hassídico dançando e cantando no Muro das Lamentações, um sufi recitando “El Allah Hu”, um hindu cantando “Hare Krishna” e um budista japonês repetindo “Na‑mu‑a‑mi‑da‑bu‑tsu, Na‑mu‑a‑mi‑dabu‑tsu” estão todos engajados mais ou menos no mesmo processo devocional, embora dirigidos para diferentes seres divinos.
O bhakti é uma poderosa escola de prática religiosa no hinduísmo, suas raízes são antigas. No clássico Srimad Bhagavatam, a recordação ou constante repetição do nome de Krishna é recomendada sobre todas as práticas como o melhor caminho para esta época. No Kalisantaram Upanishad, Brahma faz para o poeta Narada o elogio do mais elevado ou maha‑mantra: “Hare Rama, Hare Krishna” ‑ Hare, Rama e Krishna são manifestações de Vishnu.
Alguns conselhos para o devoto repetem o Visuddhimagga. São eles:
o hábito mental da constante adoração por meio da recordação é vulnerável no princípio a outras exigências de atenção, o devoto é instado a manter o satsang, a companhia de pessoas na mesma trilha. A permanência em satsang opõe‑se às demandas dos apegos mundanos, tal como o darshan, a visita aos santos.
o devoto é exortado a evitar falar de “mulheres, saúde, incrédulos e inimigos”. O sucesso do devoto depende da virtude: a pureza, diz Vivekananda (12 01 1863, Calcutá, Índia 4 07 1902, Belur Math, Haora, Índia), “é absolutamente o trabalho básico, a fundação sobre a qual repousa todo o edifício do bhakti”.
Ao dar conselhos a seus próprios discípulos, Ananda Mayee Ma (30 de 04 1896, Kheora, Bangladesh 27 08 1982, Dehradun, Índia) , uma bhakti indiana, faz eco ao Visuddhimagga para monges budistas:
Indolência e lascívia ‑ são estes os dois maiores obstáculos na trilha… Escolhe cuidadosamente tuas ocupações e mantém‑te estritamente fiel a elas como pensamentos e sentimentos divinos despertos… Empenha‑te nelas mesmo quando não houver vontade de fazê‑lo, tal como se toma um remédio… Comida, sono, toalete, roupas, etc. devem receber só a atenção estritamente necessária para a manutenção da saúde… Rancor, ambição, etc. devem ser totalmente abandonados. Tu tampouco deves ser perturbado pelo elogio ou pelo prestígio.

Na MT, por exemplo, a “consciência transcendental” é o estado alterado que permeia os estados normais. As fases que se seguem à “consciência transcendental” depois de evolução posterior são “consciência cósmica”, “consciência de Deus” e finalmente “unidade”. Cada uma representa um mergulho mais profundo da consciência meditativa nos estados normais. A maioria dos sistemas reconhece que esses traços alterados ocorrem gradualmente e em graus diferentes. No Visuddhimagga, por exemplo, há um gradiente similar nos quatro níveis de purificação decorrentes da penetração cada vez mais funda do estado nirvânico.
A meta de todas as vias de meditação, sejam quais forem sua ideologia, fonte ou métodos, é transformar a consciência do meditador. Nesse processo, o meditador morre para seu eu passado e renasce para um novo nível de experiência. Seja através da concentração no jhana ou da introvisão no nirvana, os estados alterados que o meditador alcança são dramáticos na sua descontinuidade com seus estados normais. Mas a transformação derradeira para o meditador é um estado ainda mais novo: o estado desperto, que se mescla com sua consciência normal e a recria.
Cada escola rotula esse estado final de modo distinto. Mas, não importa quão diferentes sejam os nomes, essas escolas todas propõem a mesma fórmula básica numa alquimia do eu: a difusão dos efeitos da meditação nos estados de vigília, sono e sonho do meditador. No início, essa difusão requer o esforço do meditador. A medida que progride, torna-se mais fácil para ele manter a consciência meditativa prolongada no meio de suas outras atividades. A medida que os estados produzidos por sua meditação se misturam com sua atividade diária, o estado desperto amadurece. Quando atinge a maturidade total, ele muda permanentemente sua consciência, transformando sua vivência de si mesmo e de seu universo.
A ajuda do guru iguala‑se em progresso do devoto. Ananda Mayee Ma comparava o papel do guru ao dos especialistas em qualquer campo específico ao qual alguém deve‑se dirigir para tornar‑se mais proficiente. Mas a função do guru transcende a do especialista mundano. Além de dirigir o discípulo, o guru também é o intermediário da graça divina necessária para que os esforços do discípulo frutifiquem. Não importa quão diligente seja o devoto, sem a bênção do guru seus esforços são inúteis.
Como em todas as trilhas, a virtude ‑ que no início é um ato de vontade ‑ se torna um subproduto da própria prática. À medida que a mente do devoto se concentra em seu objeto devocional, ela se retira dos objetos mundanos. Pelo amor de Deus, diz Vivekananda, o amor pelos prazeres dos sentidos e do intelecto fica obnubilado. À medida que sua consciência fica mais completamente imbuída do pensamento de seu objeto de devoção, o devoto acha repugnância nas delícias mundanas.
O devoto arrebatado está no limiar do samadhi, ou jhana. Seu êxtase indica o nível de acesso; está à beira do primeiro jhana. Se se concentrar com bastante intensidade em seu objeto devocional, ele pode entrar no samadhi. Uma vez alcançado o samadhi, não há mais necessidade de cântico ou japa: eles são um prelúdio para a funda meditação do samadhi. Um perfeito bhakta pode atingir o samadhi ao menor estímulo que sugira sua devoção, como fez Sri Ramakrishna.
O poder inicial do bhakti é o elemento de amor interpessoal sentido pelo devoto para com sua deidade. À medida que progride nesse caminho, esse amor se transforma de interpessoal em amor transcendental ou transpessoal. O devoto não depende mais do objeto de devoção para conceder beatitude. Ao contrário, ele descobre que os estados transcendentais, dos quais a beatitude é um aspecto, existem dentro de si próprio. Ele não precisa mais se apegar à forma externa de seu objeto devocional; os estados antes evocados pela forma de seu amado acabaram‑se tornando artefatos de sua própria consciência.
O devoto conduz sua mente à unidirecionalidade através da recordação constante do objeto devocional e assim finalmente alcança o samadhi no nível do primeiro jhana.
O Visuddhimagga diz que na penetração inicial de um novo plano de consciência meditativa o meditador precisa cortar seus laços com o plano anterior. Cada plano tem seus pontos especiais de apelo, alguns extremamente sublimes. O pré-requisito para galgar o plano seguinte, mais alto, é desprender‑se do plano inferior para que a consciência não seja puxada de volta a ele. Para o devoto, isso significa que a forma do seu objeto devocional deve finalmente ser abandonada para que ele mesmo se torne, no samadhi, essa manifestação de puro ser pela qual o objeto devocional é adorado.
Para além do samadhi, existe um estado no qual uma consciência samddhica se difunde em meio a todas as atividades do devoto. O japa, se desenvolvido nesse ponto, repete‑se como que por si mesmo virtualmente a cada momento, dia e noite. Esse estado é sahaj samadhi e marca o ponto final na evolução espiritual do devoto. No sahaj samadhi, não há distinção entre o devoto, o mundo e o objeto devocional; sua percepção de si e do mundo muda radicalmente. Como declara Vivekananda: “Quando uma pessoa ama o Senhor, o universo inteiro torna‑se caro para ela… toda a sua natureza é purificada e completamente transformada”. A renúncia se torna fácil, já que desapareceu todo apego que não ao objeto devocional amado.
– A cabala judaica
A meditação judaica se caracteriza por um processo de interiorização devocional, também feita na forma de oração, em que os objetivos principais são o contato com Deus, a elevação espiritual e o profundo entendimento dos textos sagrados, ou dos estudos cabalísticos. De forma geral, seria uma forma equilibrada e controlada de lidar com os pensamentos e discernir como se deseja direcionar a mente em um período de tempo.
Não há uma maneira judaica única de praticar a meditação. Existem vários métodos que vão desde simples substituições de pensamentos mundanos por reflexões mais elaboradas, até as meditações mais sofisticadas em que a pessoa atinge um estado mais elevado de consciência e percepção.
Nesse contexto judaico, a meditação é mais relevante quando associada às práticas ritualísticas e aos mandamentos da Torá (Bíblia Hebraica corresponde aos cinco primeiros livros do Pentateuco – Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio -, e constitui também a primeira grande parte da Bíblia Cristã, ou Antigo Testamento.), que, dessa forma, são vistos como instrumentos de meditação, capazes de levar a pessoa a um alto nível de consciência de Deus. A meditação judaica pode se referir a várias práticas tradicionais, como a visualização intuitiva e a recitação de orações, até combinações esotéricas dos nomes divinos (os 72 nomes de Deus) e análises intelectuais e filosóficas de livros sagrados (como textos e ensinamentos cabalísticos, bem como a Torá e um livro místico chamado Tanya, considerado “A lei escrita da filosofia hassídica”).
“Em toda religião”, escreve o cabalista contemporâneo Z’ev ben Shimon Halevi, “existem sempre dois aspectos, o visível e o oculto.” O visível se manifesta como rituais, escrituras, ofícios; o oculto traz a luz que deve iluminar essas formas. No judaísmo, as doutrinas ocultas são chamadas cabala (kabbalah). Essas doutrinas, segundo a tradição, originaram-se com os anjos, que foram instruídos por Deus. Os cabalistas identificam as grandes figuras dos tempos bíblicos ‑ Abraão, David, os Profetas ‑, bem como os essênios e outros grupos místicos da história judaica, como portadores dessa tradição. Essa tradição judaica oculta emergiu pela primeira vez na Europa na Idade Média, e várias linhagens de sua transmissão continuam na presente data.

A cosmologia da cabala supõe uma realidade multi nivelada, sendo cada nível um mundo completo em si mesmo. Esses planos são arranjados hierarquicamente: a parte superior de cada um corresponde ao aspecto inferior do que está acima. A esfera mais alta é a de Metatron, o arcanjo mor, que ensina os seres humanos. Cada nível implica um estado de consciência, e a maioria das pessoas existem nos níveis mais baixos ‑ mineral, vegetal, animal. Na visão do cabalista, o homem normal é incompleto, restrito como está a esses planos mais baixos. Ele vive uma vida mecânica, preso pelos ritmos de seu corpo e pelas reações e percepções habituais; busca cegamente o prazer e evita a dor. Embora possa ter breves lampejos de possibilidades mais elevadas, ele não deseja alcançar esse nível de consciência. A cabala busca despertar o estudioso para suas próprias limitações e prepará‑lo para entrar num estado de consciência em que ele se sintoniza com uma percepção mais elevada, não sendo mais escravo de seu corpo e dos condicionamentos. Para ficar livre, o aspirante deve primeiro desiludir‑se dos jogos mecânicos da vida. Em seguida, constrói um alicerce para entrar numa consciência mais elevada, o Paraíso interior. Este é, diz Halevi, o significado alegórico da servidão no Egito: a escravidão do ego limitado, a purificação do aspirante no deserto e sua entrada na terra do leite e do mel.
As características da preparação do cabalista ‑ sua fundamentação para estados mais elevados ‑ variam de escola para escola, embora as bases sejam em geral constantes. Quando o aspirante contata um Maggid, ou mestre, sua preparação começa de fato. O Maggid dirige‑o na auto observação sincera, usando o conteúdo da vida do discípulo como material de ensino. Há vários sistemas que ajudam o aspirante a conhecer a si mesmo, tal como uma intricada numerologia que transforma as letras e palavras hebraicas num código numérico com interpretações místicas (Gematria). Para tanto, o cabalista volta‑se para a meditação. Escreve Halevi:
Preparação significa ser capaz de receber e partilhar o grau de recepção determina a qualidade do Conhecimento dado. A troca é precisa, e é paga com o montante de atenção consciente numa situação complexa. Onde há atenção, há poder.
As instruções para a meditação fazem parte dos ensinamentos secretos dos cabalistas e, a não ser as regras gerais, não são tornadas públicas. Cada discípulo aprende da boca de seu Maggid. Em geral, a meditação na cabala é um desdobramento das orações normais do judeu piedoso. A concentração meditativa permite que o cabalista penetre as profundezas de um tema particular ‑ uma palavra numa oração ou num aspecto da árvore da vida ‑ e também que detenha seu pensamento de modo a permanecer uni direcionado no tema. Esse foco fino é kavvanab, o meditador concentra‑se em cada palavra da oração regular com sua atenção total, até o ponto em que sua mente transcende o simples significado das palavras e então as usa como um veículo para um estado mais elevado.
Segundo a doutrina cabalista, pode ser perigosa a entrada no Paraíso interior por alguém que não preparou suficientemente uma base através da auto purificação. O Talmud conta a história de quatro rabinos que entraram no Paraíso: um ficou louco, um morreu e outro perdeu a fé; só um, o Rabbi Akiba, retornou em paz.
O fim da via da cabala é o devekut, no qual a alma do aspirante adere a Deus. Quando o cabalista estabiliza sua consciência neste nível, ele já não é mais um homem comum, mas um homem sobrenatural, um Zaddik, que escapou das cadeias de seu ego pessoal. As qualidades de alguém que atingiu este estado incluem serenidade, indiferença ao elogio ou à censura, um sentido de estar a sós com Deus, e a profecia. A vontade do ego está submersa na vontade divina, de modo que os seus atos servem a Deus e não a um eu limitado. Ele não precisa mais estudar a Torah, porque ele se tornou Torah. Um comentador clássico define o devekut como um estado mental no qual
Tu te lembras constantemente de Deus e de Seu amor, e não afastas teu pensamento dele… a tal ponto que, quando uma pessoa assim fala com alguém, seu coração não está com ela, mas ainda está diante de Deus. E de fato pode ser plausível dizer daqueles que atingiram esse nível que à sua alma foi concedida vida imortal ainda nesta vida, porque eles próprios são uma morada para o Espírito Santo.
– O hesicasma cristão
Hesicasmo (é uma tradição de oração solitária na Igreja Ortodoxa e em algumas Igrejas Católicas Orientais, com as que seguem o rito bizantino, praticada pelo chamado hesicasta.
Baseado no ordenamento de Cristo no Evangelho de Mateus («… entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto…» (Mateus 6:6), o hesicasmo tradicionalmente é definido como o processo de retiro interior pela cessação dos sentidos com o objetivo de obter um conhecimento experimental de Deus.
Os primeiros monges cristãos foram eremitas que viveram durante o século IV nas partes mais remotas do árido deserto do Egito.
Os Padres do Deserto, como os yogis indianos no alto Himalaia, buscavam o isolamento do deserto mais áspero para se comunicar com Deus, livres das distrações mundanas. As práticas de meditação e as regras de vida desses primeiros monges cristãos têm grandes semelhanças com as dos hindus e budistas. Embora Jesus e seus ensinamentos fossem a inspiração deles, as técnicas de meditação que adotaram para encontrar seu Deus sugerem ou um empréstimo do Oriente ou uma redescoberta espontânea. Os métodos dos Padres do Deserto influenciaram o monaquismo (vida monástica) cristão até os dias de hoje; seu amor altruísta permaneceu como um exemplo a ser seguido.
A lembrança constante de Deus ‑ tal como o bhakti e o cabalista a praticam ‑ tem sido um esteio da adoração cristã desde o princípio, embora o uso atual das contas do rosário seja uma pálida reminiscência de uma lembrança muito mais ativa. Os Padres do Deserto meditavam com a repetição verbal ou calada de uma única frase das Escrituras, um equivalente cristão do mantra. A mais popular era a oração do Publicano: “Senhor Jesus Cristo, filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador”. Na sua forma reduzida, Kyrie eleison, era repetida silenciosamente ao longo do dia “até se tornar tão espontânea e instintiva quanto a respiração”.
Os Padres do Deserto enfatizavam a pureza, e seus atos ascéticos são prodigiosos; são Simeão, o Estilita, que viveu trinta anos no alto de uma coluna, foi um dos mais conhecidos.
Tal como no Visuddhimagga, a purificação era usada para auxiliar a concentração; nas palavras de um dos padres, “se não estiver limpa de pensamentos alheios, a alma não pode orar a Deus em contemplação”. Uma máxima corolária é que a vida no mundo só importa na medida em que reflete uma vida interior de prática contemplativa. O espírito desta tradição, preservado em ordens monásticas modernas como a dos beneditinos trapistas
Uma grande tradição que deriva das práticas dos Padres do Deserto, embora virtualmente perdida no cristianismo ocidental, pouco mudou na Ortodoxia oriental desde o primeiro milênio. É a prática da Oração de Jesus (A Oração de Jesus, também chamada Oração do Coração, tal como praticada na tradição ortodoxa oriental, consiste na mesma oração acima citada como a “do Publicano”: “Senhor Jesus Cristo, filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador”.). Sua repetição cumpre o mandamento de Paulo de “orar incessantemente”. Os antigos padres chamavam‑na “a arte das artes e a ciência das ciências”, que leva aquele que ora rumo à mais alta perfeição humana. Essa tradição está preservada na coletânea de escritos cristãos primitivos conhecida como Filocalia. Sua tradução do grego para o russo na virada deste século veio na crista de uma onda de revivescência da prática em toda a Rússia
A prática da Oração fortalece a concentração. Tal como no bhakti hindu, os pré‑requisitos para o sucesso com a Oração são “humildade genuína, sinceridade, resistência, pureza”. Ela é uma arte espiritual que liberta a pessoa completamente dos pensamentos e palavras apaixonados, dos atos malévolos e dá “um conhecimento seguro de Deus, o Incompreensível”. A prática da Oração traz a pureza do coração, que é “o mesmo que preservar a mente, mantida perfeitamente livre de todas as fantasias” e de todos os pensamentos. O caminho para essa pureza é a invocação incessante de Cristo, com atenção perfeita, resistindo a todos os outros pensamentos.
Entre as “Instruções para os hesicastas” está a de encontrar um mestre que traga o Espírito consigo. Uma vez encontrado, o noviço entrega‑se a seu mestre, obedecendo a todas as suas ordens. Outras instruções incluem a reclusão numa cela quieta e pouco iluminada, comer somente o necessário para manter‑se vivo, cumprimento total dos ritos da Igreja, jejuns, vigílias e, o mais importante, a prática da Oração.
A Oração não deve ser limitada a sessões específicas, mas praticada sem distração em meio a toda atividade. A Oração assim praticada traz pureza à atividade mundana. O monge que domina essa habilidade tem a estatura de Cristo, porque goza de perfeita pureza de coração. A meta dos esforços dos Padres do Deserto era o que Merton chama de “não‑lugar e não‑mente” ‑ uma condição designada pela palavra quies, “quieto” ‑, quando o monge abandonou toda preocupação com seu eu limitado. Combinadas com a vida ascética no deserto, essas práticas de oração, nas palavras de Merton, “permitiam que o velho eu superficial fosse expulso e davam ensejo à gradual emergência do verdadeiro eu secreto, no qual o Crente e o Cristo eram ‘um espírito’.
Os temas dos atos de purificação, meditação profunda e finalmente sua fruição na pureza espontânea e na recordação constante de Deus não são exclusivos dos hesicastas ortodoxos orientais. Santo Agostinho, por exemplo, advogava as mesmas práticas básicas. Além disso, a semelhança da entrada no jhana e da união com o Uno da mística cristã é clara nas Confissões de Agostinho. Ele pregava um longo processo de autonegação, autocontrole e a prática da virtude como preparação para “a escalada rumo à contemplação de Deus”. Só essa autodisciplina ascética pode resultar na reorganização do caráter, pré‑requisito para entrar nos planos mais elevados da vida espiritual. Agostinho insiste em que só depois de o monge ter ficado “limpo e curado” é que ele pode começar a prática adequada do que chama “contemplação”. A própria contemplação acarreta “recolhimento” e “introversão”. Recolhimento é concentrar a mente, banindo todas as imagens, pensamentos e percepções sensoriais. Tendo esvaziado a mente de todas as distrações, a introversão pode começar. A introversão concentra a mente na sua parte mais profunda naquilo que é visto como o passo final antes que a alma se encontre com Deus: “A mente se abstrai de todos os sentidos corporais, na medida em que eles a interrompem e confundem com seu alvoroço, a fim de ver‑se a si mesma em si mesma”. Vendo assim, a alma chega a Deus “em si e acima de si mesma”. Agostinho descreve o lado físico do estado induzido por essa experiência em termos semelhantes ao do Visuddhimagga para o quarto jhana:
Quando a atenção da mente está totalmente afastada e retirada dos sentidos corporais ‑ chama‑se êxtase. Então, quaisquer corpos que estejam presentes não são vistos com os olhos abertos, nem voz alguma é ouvida. É um estado a meio caminho entre o sono e a morte: a alma é arrebatada de tal maneira a ser subtraída dos sentidos corporais mais do que no sono, mas menos do que na morte.
– Sufismo
A meditação sufi sempre foi uma prática central da espiritualidade islâmica, o sufismo, cujo princípio é a união do indivíduo com a sua realidade espiritual. Através da meditação sufi, o indivíduo se afastaria do mundo material de ilusão para mergulhar na essência divina.
A meditação sufi é uma abordagem mental e devocional cujo objetivo final é permitir que o praticante entre em contato com o conhecimento dos atributos divinos.
Dentro do sufismo, as práticas meditativas encontram seu caminho na devoção ao sagrado e ao divino, na contemplação de um caminho realizador, através da meditação, na união do próprio ser consigo mesmo, considerando sua divindade um preceito inerente à natureza humana, que, quando descoberta e purificada, abriria condições para uma vida espiritual de realizações e comunhão com Deus.
Para o sufi, a fraqueza humana básica é o estar preso pelo eu inferior. Os santos ultrapassaram sua natureza inferior, e os noviços procuram escapar dela. A meditação é essencial nos esforços do noviço para purificar o coração. “Meditação por uma hora”, dizia um antigo mestre sufi, “vale mais do que culto ritual por um ano inteiro”.
A principal meditação dos sufis é o zikr, que significa recordação”. O zikr por excelência é La ilãha illã ‘llah: “Não há deus senão Deus”. Bishi al‑Hafi, um antigo sufi de Bagdá, dizia: “O sufi é aquele que mantém puro o Coração”. O sufi visa a uma pureza que é total e permanente. O próprio profeta Maomé dizia: “Para tudo existe um polimento que remove a ferrugem; e o polimento do Coração é a invocação de Alá”. A recordação de Deus pela repetição de seu nome purifica a mente do meditador e abre seu coração para Ele. Um zikr, por exemplo, sempre acompanha a dança sufi; ele realça o efeito da dança mantendo a lembrança de Deus constante. “A dança abre uma porta na alma para as influências divinas”, escreveu Sultan Walad, filho de Rumi. “A dança é boa quando surge da recordação do Amado.”
O zikr é também uma meditação solitária. No começo, é uma repetição oral, mais tarde é silenciosa; um manuscrito do século XIV diz: “Quando o coração começa a recitar, a língua deve parar”. O objetivo do zikr, como em todos os sistemas de meditação, é ultrapassar o estado natural da mente de distração e desatenção. Controlada a mente, o sufi, pode ficar unidirecionado para Deus. O comentário sufi sobre a consciência normal é que os homens estão “adormecidos num pesadelo de desejos insatisfeitos” e que, com a transcendência que a disciplina mental traz, esses desejos desaparecem.
Um sufi, egípcio do século IX comentava sobre os esforços especiais que o noviço faz: “As massas fazem penitência dos pecados, ao passo que o eleito faz penitência da distração”. Após intensa prática de meditação ou canto em grupo, o relaxamento que se segue aos esforços pode trazer uma enxurrada de velhos hábitos mentais. O grau dessa recaída serve para medir o progresso espiritual. Nenhuma virtude é adquirida se os hábitos e reações condicionados passarem a dominar tão logo a intensidade do praticante diminuir.
A premissa central que sustenta esses atos de renúncia permeia o pensamento sufi. Abu Said de Mineh esquematizo-a assim: “Quando ocupado com teu eu, estás separado de Deus. O caminho para Deus tem um só passo: o passo para fora de ti mesmo”.
Ao longo de seu caminho rumo à ausência de desejo, o sufi passa por estados típicos de progresso em vários outros modelos de meditação. Qurb é o sentimento da constante proximidade de Deus induzido pela concentração nele. No mahabba, o sufi perde‑se a si mesmo na consciência de seu amado. Entre os frutos do mahabba estão visões e a “estação da unidade”, em que o zikr (a recordação), o zakir (aquele que recorda) e o mazkur (aquele que é recordado) se tornam um. Um budista theravadano poderia ver essas experiências como a entrada no primeiro jhana. Os sufis reconhecem a mestria no ponto em que a atenção do zakir fixa‑se no zikr sem esforço, deixando fora da mente qualquer outro pensamento. Os sufis vêem esse estado, chamado fana, como um puro dom de graça em que o zakir está “perdido na Verdade”. Fana significa “dissipar‑se em Deus”. Chega‑se aí, quando “tanto o eu quanto o mundo foram abandonados”. A cessação da consciência interna e externa num foco unidirecionado no zikr marca a absorção do sufi no fana, comparável ao jhana budista.
Os sufis insistem em que sua doutrina nunca deve ser fixamente dogmática, mas flexível o bastante para responder às necessidades de pessoas, épocas e lugares específicos. Como afirma um mestre sufi moderno, Abdul‑Hamid: “A Obra é levada a cabo pelo mestre em concordância com sua percepção da situação em que se encontra. Isso significa que não existe nenhum manual, nem sistema, nem método senão aquele que pertence à escola do momento”.
Ibn al‑Najib (1097‑1168) estabeleceu suas regras para a conduta de iniciantes na ordem Suhrwardi, à qual pertencia; seu propósito é comparável ao do Visuddhimagga. Embora sejam pertinentes para um determinado grupo numa dada época e lugar, essas regras têm sido usadas em todo o mundo muçulmano e são a base para obras de instrução sufis mais recentes. Essas regras dão uma das muitas variantes do treinamento sufi. Várias regras têm ressonâncias com os conselhos dados aos aspirantes budistas, hindus, cabalistas e cristãos primitivos. Tal como se diz ao bhakti que mantenha o satsang, al-Muridin aconselha: “O sufi deve‑se associar com pessoas do seu tipo e com aquelas de quem possa beneficiar‑se”. O noviço deve‑se unir a um mestre qualificado, um shayk, buscando constantemente sua orientação e obedecendo a ele totalmente. É instado a prestar serviço a seu shayk e seus seguidores. O serviço é exaltado como a melhor vocação para o aspirante; o servo é mandado ocupar um lugar próximo do shayk. Tal como no Visuddhimagga e no Sermão da Montanha de Cristo, a regra do noviço ordena: “Ninguém deve‑se preocupar com as provisões para a subsistência, nem deve‑se ocupar em buscá‑las, reuni‑las e armazená‑las”. Pois o próprio Profeta “não acumulou nada para amanhã”. Cobiçar comida, roupas ou abrigo é obstáculo para a pureza do sufi, pois Deus revelou: “Aqueles corações presos por seus desejos ficam afastados dele”. Embora o celibato não seja exigido dos sufis, essas regras do século XII recomendam: “Em nossa época, convém evitar o casamento e suprimir o desejo pela disciplina, jejum, vigílias e viagens”. Finalmente, o sufi, precisa ser um muçulmano por excelência, observando à letra todas as regras da fé, pois “quanto mais santo o homem, mais estritamente será julgado”.
A doutrina sufi prega que os homens estão presos por seus condicionamentos ‑ os espinhos e ervas daninhas que os afastam de Deus. O homem comum é vítima da dor por seu condicionamento. Hábitos arraigados de pensamento, sentimento e percepção ditam as reações humanas ao mundo; o homem é um escravo de seus hábitos. As pessoas estão adormecidas mas não sabem disso. Para despertá‑las de sua condição ‑ o primeiro passo para livrá‑las dela ‑, as pessoas precisam de um choque. Uma das funções das histórias didáticas sufi, como o conto dos cegos e do elefante (Seis cegos mendigos se aproximaram de um elefante, e cada um deles tocou urna parte diferente do animal, chegando a conclusões totalmente disparatadas acerca do aspecto verdadeiro do animal: o que tocou a tromba julgou que o elefante era um tipo de cobra, e assim por diante. Uma interpretação espiritual possível dessa história é a de que os seres humanos, em sua condição natural, animal, mundana, são cegos que tentam compreender uma realidade muito maior do que a apreendida por seus sentidos. Por isso só conseguem interpretar, e erroneamente, partes dela.), é dar esse choque. Esses contos têm diversas camadas de significado. Algumas estão ocultas para a maioria dos ouvintes, algumas são óbvias. Nem todo mundo tira a mesma lição das histórias, pois o que o ouvinte ouve depende da etapa em que se encontra ao longo da via sufi. O mestre habilidoso usa com precisão o conto certo no momento exato para transmitir um ensinamento para o qual o discípulo está maduro.
Um antigo mestre inclui em sua lista dos atributos do perfeito sufi: um sentimento de estar inteiramente sujeito a Deus e não à própria vontade; o desejo de não ter desejo pessoal algum; a “graça” ‑ isto é, o desempenho perfeito de ações a serviço de Deus; honestidade em atos e pensamentos; a colocação dos interesses alheios à frente dos próprios interesses; serviço totalmente altruísta; recordação constante de Deus; generosidade, destemor e a capacidade de morrer nobremente. Mas o sufi pode tropeçar nessas fórmulas específicas ao usá‑las para medir seu progresso espiritual ou, pior, ao tentar avaliar os progressos de outrem por meio dessa lista.
Meditação Pratica 1 – Relaxamento